
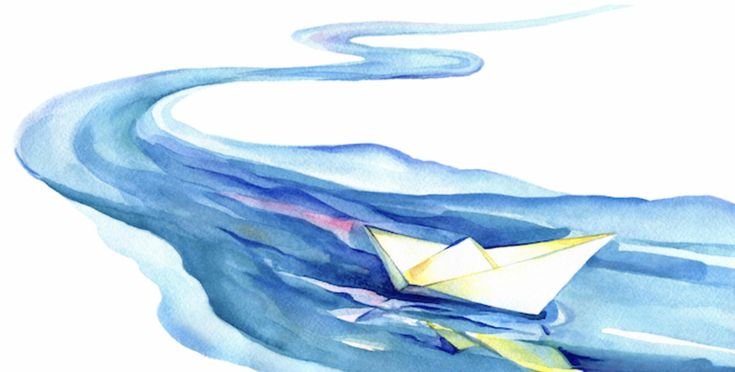





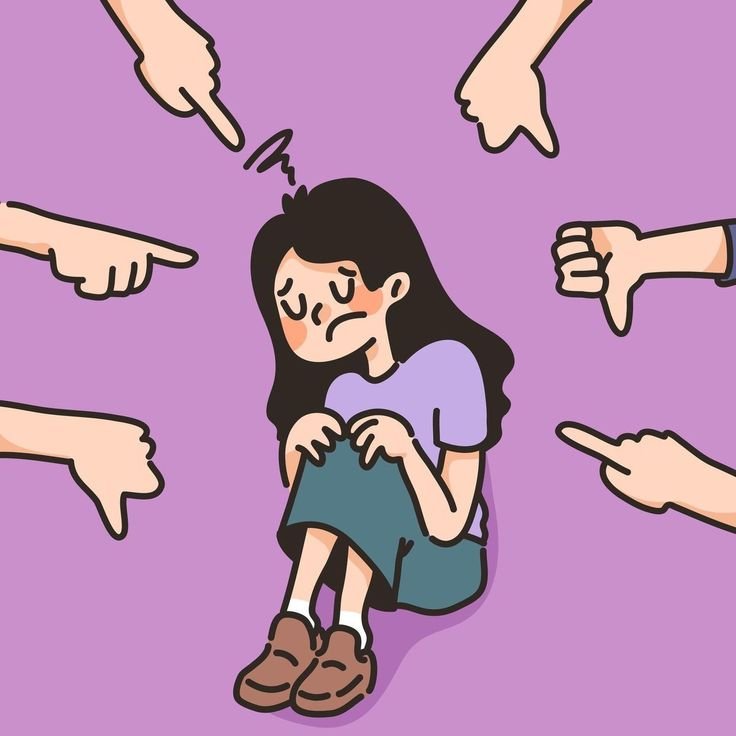
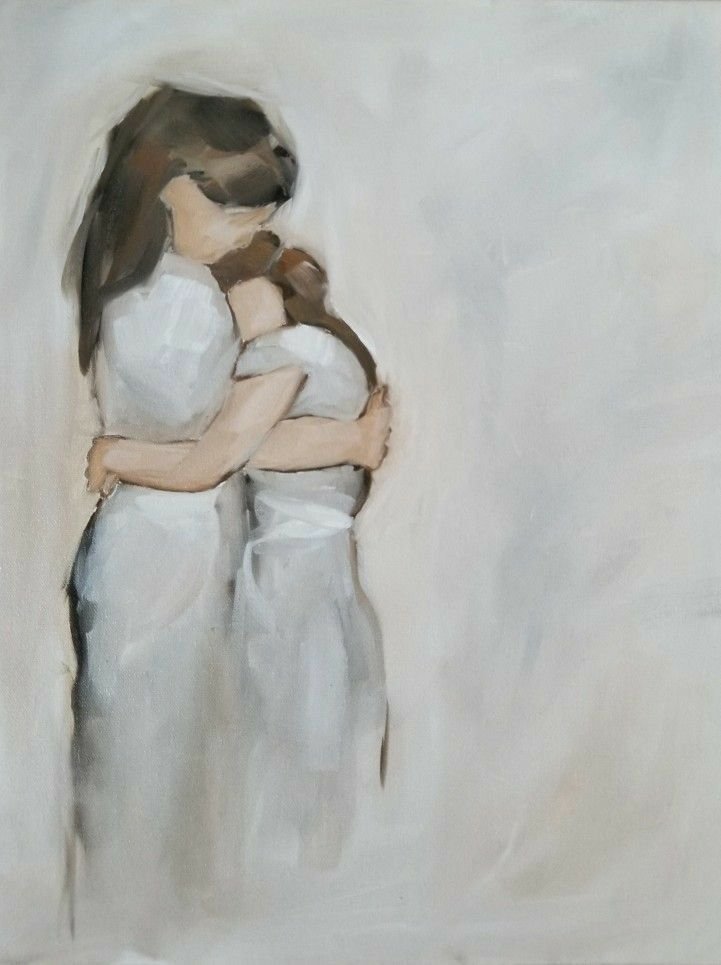



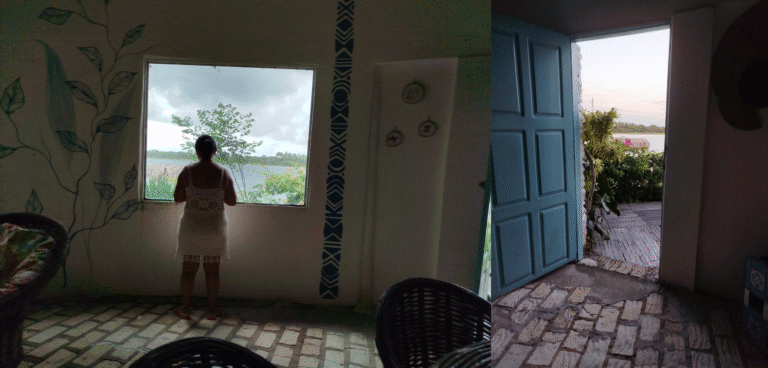
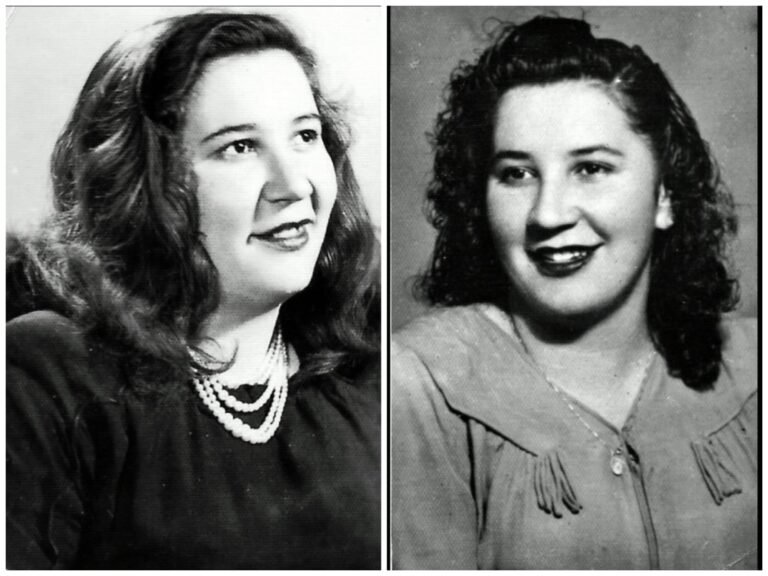


Por minha vasta convivência profissional durante anos com a sociedade de Fortaleza, aprendi a captar notícias em suas mais preciosas e seguras fontes. Por perceber que no contato com esses registros sociais estava a fonte de minha vocação, resolvi criar meu próprio espaço na mídia virtual, reunindo uma equipe capaz e competente.
© 2025 Salete em Sociedade – Todos os Direitos Reservados